A essência do Neoliberalismo
O mundo económico é realmente, como pretende o discurso dominante, uma ordem pura e perfeita, desenvolvendo implacavelmente a lógica das suas consequências previsíveis, e disposto a reprimir todas as transgressões com as sanções que inflige, seja de forma automática, seja – mais excepcionalmente – por mediação dos seus braços armados, o FMI ou a OCDE, e das políticas que estes impõem: redução do custo da mão‑de‑obra, restrição das despesas públicas e flexibilização do mercado de trabalho? E se não fosse, na realidade, mais do que a posta em prática de uma utopia, o neoliberalismo, desse modo convertida em programa político, mas uma utopia que, com a ajuda da teoria económica de que se reclama, chega a pensar‑se como a descrição científica do real?
Esta teoria tutelar é uma pura ficção matemática, baseada, desde a sua origem, numa formidável abstracção: a que, em nome duma concepção tão estreita como estrita da racionalidade, identificada com a racionalidade individual, consiste em pôr entre parênteses as condições económicas e sociais das orientações racionais e das estruturas económicas e sociais que são a condição do seu exercício.
Para perceber a dimensão destes aspectos omitidos, basta pensar no sistema de ensino, que nunca é tido em conta enquanto tal num momento em que desempenha um papel determinante na produção de bens e serviços, assim como na produção dos produtores. Desta espécie de pecado original, inscrito no mito walrasiano [1] da “teoria pura”, derivam todas as carências e todas as ausências da disciplina económica, e a obstinação fatal com que se apega à oposição arbitrária a que dá lugar, pela sua mera existência, entre a lógica propriamente económica, baseada na concorrência e portadora de eficácia, e a lógica social, submetida à regra da equidade.
Dito isto, esta “teoria” originariamente dessocializada e deshistorizada tem, hoje mais do que nunca, os meios de se converter em verdade, empiricamente verificável. Com efeito, o discurso neoliberal não é um discurso como os outros. À maneira do discurso psiquiátrico no asilo, segundo Erving Goffman [2], é um “discurso forte”, que só é tão forte e tão difícil de combater porque dispõe de todas as forças de um mundo de relações de força que ele contribui a formar tal como é, sobretudo orientando as opções económicas daqueles que dominam as relações económicas e somando assim a sua própria força, propriamente simbólica, a essas relações de força. Em nome desse programa científico de conhecimento, convertido em programa político de acção, leva‑se a cabo um imenso trabalho político (negado já que, em aparência, puramente negativo) que trata de criar as condições de realização e de funcionamento da “teoría”; um programa de destruição metódica dos colectivos.
O movimento, tornado possível pela política de desregulamentação financeira, no sentido da utopia neoliberal dum mercado puro e perfeito, realiza‑se através da acção transformadora e, há que dizê‑lo, destruidora de todas as medidas políticas (cuja mais recente é o AMI, Acordo Multilateral de Investimentos, destinado a proteger as empresas estrangeiras e os seus investimentos contra os Estados nacionais), visando pôr em questão todas as estruturas colectivas capazes de colocar obstáculos à lógica do mercado puro: a nação, cuja margem de manobra não cessa de diminuir; os grupos de trabalho, com, por exemplo, a individualização dos salários e das carreiras em função das competências individuais e a atomização dos trabalhadores que daí resulta; os colectivos de defesa dos direitos dos trabalhadores, sindicatos, associações, cooperativas; a própria família, que, através da constituição de mercados por classes de idade, perde uma parte do seu controlo sobre o consumo.
O programa neoliberal, que extrai a sua força social da força político-económica daqueles cujos interesses expressa – accionistas, operadores financeiros, industriais, políticos conservadores ou social‑democratas convertidos à deriva cómoda do laisser‑faire, altos executivos das finanças, tanto mais encarniçados em impor uma política que prega o seu próprio ocaso quanto, à diferença dos técnicos superiores das empresas, não correm o perigo de pagar, eventualmente, as suas consequências –, tende a favorecer globalmente a ruptura entre a economia e as realidades sociais, e a construir deste modo, dentro da realidade, um sistema económico ajustado à descrição teórica, quer dizer, uma espécie de máquina lógica, que se apresenta como uma cadeia de restrições que arrastam os agentes económicos.
A mundialização dos mercados financeiros, em conjunto com o progresso das técnicas de informação, garante uma mobilidade de capitais sem precedentes e proporciona aos investidores, preocupados com a rentabilidade a curto prazo dos seus investimentos, a possibilidade de comparar de maneira permanente a rentabilidade das maiores empresas e de sancionar em consequência os fracassos relativos. As próprias empresas, colocadas sob uma tal ameaça permanente, devem ajustar‑se de forma mais ou menos rápida às exigências dos mercados; isso sob pena, como alguém disse, de «perder a confiança dos mercados», e, ao mesmo tempo, o apoio dos accionistas que, ansiosos por uma rentabilidade a curto prazo, são cada vez mais capazes de impor a sua vontade aos managers, de lhes fixar normas, através das direcções financeiras, e de orientar as suas políticas em matéria de contratação, de emprego e de salários.
Deste modo instaura‑se o reino absoluto da flexibilidade, com os recrutamentos sob contratos temporários ou os substitutos temporários ou os “planos sociais” reiterados, e, no próprio seio da empresa, a concorrência entre filiais autónomas, entre equipas constrangidas à polivalência e, finalmente, entre indivíduos, através da individualização da relação salarial: fixação de objectivos individuais; entrevistas individuais de avaliação; avaliação permanente; subidas individualizadas de salários ou concessão de prémios em função da competência e do mérito individuais; carreiras individualizadas; estratégias de “responsabilização” tendentes a assegurar a autoexploração de certos técnicos superiores que, meros assalariados sob forte dependência hierárquica, são ao mesmo tempo considerados responsáveis das suas vendas, dos seus produtos, da sua sucursal, do seu armazém, etc., como se fossem “independentes”; exigência de “autocontrolo” que estende a “implicação” dos assalariados, segundo as técnicas da “gestão participativa”, muito mais além dos empregos de técnicos superiores. Técnicas todas elas de dominação racional que, em tudo impondo o superinvestimento no trabalho, concorre a debilitar ou a abolir as referências e as solidariedades colectivas [3].
A instituição prática de um mundo darwinista de luta de todos contra todos, em todos os níveis da hierarquia, que encontra as dinâmicas da adesão à tarefa e à empresa na insegurança, no sofrimento e no stress, não poderia triunfar tão completamente, sem dúvida, se não contasse com a cumplicidade das disposições precarizadas que produzem a insegurança e a existência, em todos os níveis da hierarquia, e mesmo nos níveis mais elevados, especialmente entre os técnicos superiores, de um exército de reserva de mão‑de‑obra docilizada pela precarização e pela ameaça permanente do desemprego. O fundamento último de toda esta ordem económica colocada sob o signo da liberdade é, com efeito, a violência estrutural do desemprego, da precariedade e da ameaça de despedimento que ela implica: a condição do funcionamento “harmonioso” do modelo micro-económico individualista é um fenómeno de massas, a existência do exército de reserva dos desempregados.
Esta violência estrutural pesa também sobre o que chamamos o contrato de trabalho (sabiamente racionalizado e desrealizado pela “teoria dos contratos”). O discurso de empresa nunca falou tanto de confiança, de cooperação, de lealdade e de cultura de empresa como numa época em que se obtém a adesão de cada instante fazendo desaparecer todas as garantias temporais (três quartas partes dos contratos são temporais, a parte dos empregos precários não cessa de aumentar, o despedimento individual tende a não estar mais submetido a nenhuma restrição).
Vemos assim como a utopia neoliberal tende a encarnar‑se na realidade de uma espécie de máquina infernal, cuja necessidade se impõe aos próprios dominadores. Como o marxismo noutros tempos, com o qual, neste aspecto, tem muitos pontos em comum, esta utopia suscita uma formidável crença, a free trade faith (a fé no livre comércio), não só entre os que vivem dela materialmente, como os financeiros, os patrões das grandes empresas, etc., mas também entre os que extraem dela a sua razão de existir, como os altos executivos e os políticos, que sacralizam o poder dos mercados em nome da eficácia económica, que exige o levantamento das barreiras administrativas ou políticas susceptíveis de importunar os detentores de capitais na busca puramente individual da maximização do benefício individual, instituída em modelo de racionalidade, que querem bancos centrais independentes, que pregam a subordinação dos Estados nacionais às exigências da liberdade económica para os amos da economia, com a supressão de todas as regulamentações em todos os mercados, a começar pelo mercado de trabalho, a interdição dos défices e da inflação, a privatização generalizada dos serviços públicos e a redução das despesas públicas e sociais.
Sem partilhar necessariamente os interesses económicos e sociais dos verdadeiros crentes, os economistas têm suficientes interesses específicos no campo da ciência económica para trazer uma contribuição decisiva, quaisquer que sejam os seus estados de alma a respeito dos efeitos económicos e sociais da utopia que eles vestem de razão matemática, à produção e à reprodução da crença na utopia neoliberal. Separados por toda a sua existência e, sobretudo, por toda a sua formação intelectual, quase sempre puramente abstracta, livresca e teoricista, do mundo económico e social tal como ele é, eles são particularmente inclinados a confundir as coisas da lógica com a lógica das coisas.
Confiando em modelos que praticamente nunca tiveram a oportunidade de submeter à prova da verificação experimental, propensos a olhar de cima os logros das outras ciências históricas, nas quais não reconhecem a pureza e a transparência cristalina dos seus jogos matemáticos, e das quais eles são quase sempre incapazes de compreender a verdadeira necessidade e a profunda complexidade, participam e colaboram numa formidável transformação económica e social que, mesmo se algumas das suas consequências lhes causam horror (podem contribuir para o Partido socialista e dar conselhos avisados aos seus representantes nas instâncias de poder), não lhes pode desagradar pois que, sob o risco de alguns falhanços, imputáveis nomeadamente ao que eles chamam por vezes “bolhas especulativas”, tendem a dar realidade à utopia ultraconsequente (como certas formas de loucura) à qual consagram a sua vida.
E contudo o mundo está aí, com os efeitos imediatamente visíveis da posta em prática da grande utopia neoliberal: não apenas a miséria de uma fracção cada vez maior das sociedades mais avançadas economicamente, o crescimento extraordinário das diferenças entre os rendimentos, o desaparecimento progressivo dos universos autónomos de produção cultural, cinema, edição, etc., pela imposição intrusiva dos valores comerciais, mas também e sobretudo a destruição de todas as instâncias colectivas capazes de contrabalançar os efeitos da máquina infernal, à cabeça das quais o Estado, depositário de todos os valores universais associados à ideia de público, e a imposição, generalizada, nas altas esferas da economia e do Estado, ou no seio das empresas, desta espécie de darwinismo moral que, com o culto do winner, formado nas matemáticas superiores e no salto elástico, instaura como normas de todas as práticas a luta de todos contra todos e o cinismo.
Podemos esperar que a massa extraordinária de sofrimento que produz semelhante regime político-económico esteja um dia na origem de um movimento capaz de parar a corrida para o abismo? De facto, estamos aqui perante um extraordinário paradoxo: enquanto os obstáculos encontrados no caminho da realização da nova ordem – a do indivíduo só, mas livre – são hoje considerados como imputáveis a rigidezes e a arcaísmos, e enquanto qualquer intervenção directa e consciente, pelo menos quando vem do Estado, sob que aspecto for, é desacreditada de antemão, logo destinada a desaparecer em benefício de um mecanismo puro e anónimo, o mercado (do qual se esquece com frequência que é também o lugar do exercício de interesses), é na realidade a permanência ou a sobrevivência das instituições e dos agentes da antiga ordem em vias de desmantelamento, e todo o trabalho de todos as categorias de trabalhadores sociais, e também todas as solidariedades sociais, familiares ou outras, que fazem com que a ordem social não se afunde no caos, malgrado o volume crescente da população precarizada.
A passagem ao “liberalismo” realiza‑se de maneira insensível, logo imperceptível, como a deriva dos continentes, ocultando assim aos olhares os seus efeitos, os mais terríveis a longo prazo. Efeitos que se encontram também, paradoxalmente, dissimulados pelas resistências que suscita, desde logo, da parte dos que defendem a ordem antiga bebendo nas fontes que encerrava, nas antigas solidariedades, nas reservas de capital social que protegem toda uma parte da ordem social presente da queda na anomia. (Capital que, se não é renovado, reproduzido, está votado ao deperecimento, mas cujo esgotamento não é para amanhã).
Mas essas mesmas forças de “conservação”, que são fáceis de tratar como forças conservadoras, são também, sob outro nexo, forças de resistência contra a instauração da nova ordem, que podem terminar sendo forças subversivas. E se podemos consequentemente conservar alguma esperança razoável, é porque existem ainda, nas instituições estatais e também nas disposições dos agentes (em especial, os mais vinculados a essas instituições, como a pequena aristocracia funcionarial), tais forças que, sob a aparência de defender simplesmente – como serão imediatamente acusados – uma ordem desaparecida e os “privilégios” correspondentes, devem de facto, para resistir à prova, trabalhar para inventar e construir uma ordem social que não tenha por única lei a busca do interesse egoísta e a paixão individual do lucro, e que prepare o caminho a colectivos orientados no sentido da busca racional de fins colectivamente elaborados e aprovados.
Entre estes colectivos, associações, sindicatos, partidos, como não atribuir um lugar especial ao Estado, Estado nacional ou, melhor ainda, supranacional, quer dizer, europeu (etapa para um Estado mundial), capaz de controlar e de tributar eficazmente os lucros obtidos nos mercados financeiros e, sobretudo, de contrabalançar a acção destruidora que estes últimos exercem sobre o mercado de trabalho, organizando, com a ajuda dos sindicatos, a elaboração e a defesa do interesse público que, quer se queira quer não, não sairá nunca, nem sequer ao preço de algumas falsidades de escrita matemática, da visão do contabilista (noutra época diríamos do “merceeiro”) que a nova crença apresenta como a forma suprema da realização humana.
BOURDIEU, Pierre, "A essência do neoliberalismo", Le Monde Diplomatique, Março de 1998.


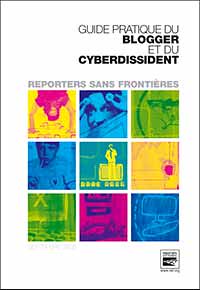




0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home